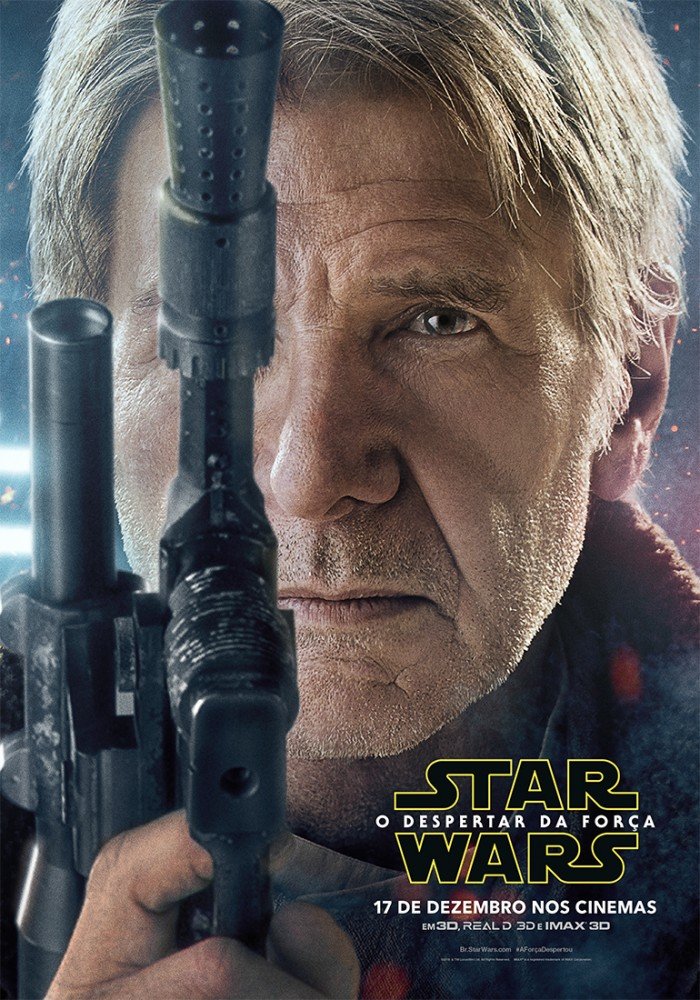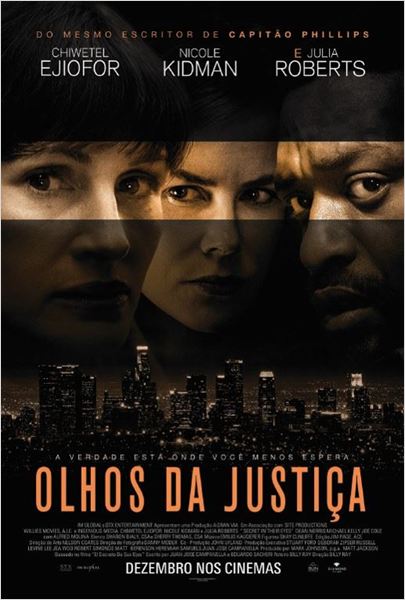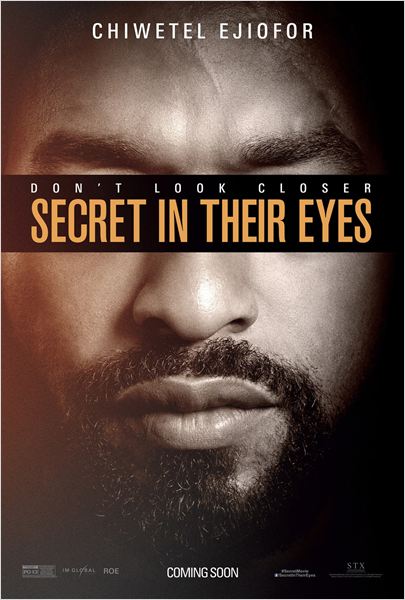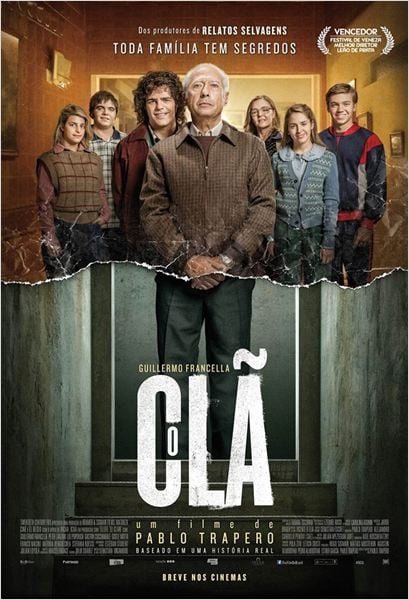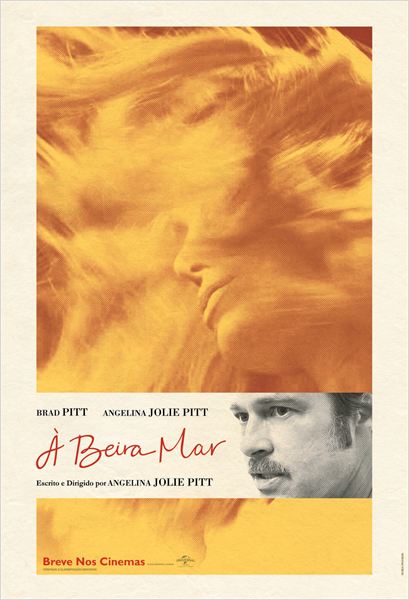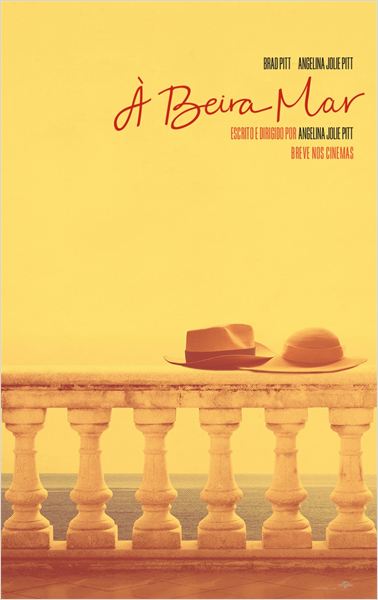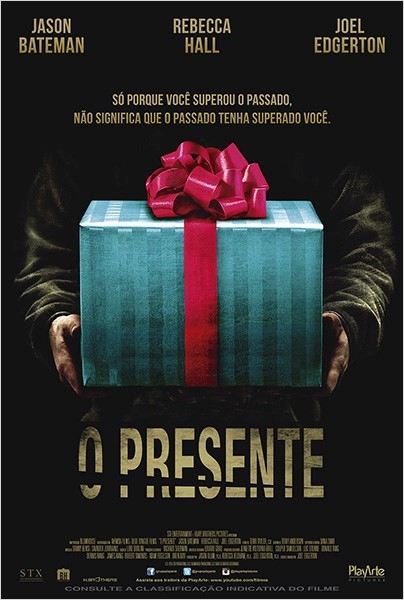É sem dúvida uma tarefa hercúlea transportar para a linguagem cinematográfica qualquer peça teatral. Mais ainda ao se tratar de uma que não é uma qualquer, mas uma das maiores da história. A tradução para a linguagem do cinema não é retórica vazia, pois existem diferenças abissais entre as duas expressões artísticas. Sinteticamente, enquanto o cinema é focado na ação, o teatro se embasa no texto - o que se amplia em Shakespeare. Uma tragédia shakespeareana clássica como "Macbeth" representa um texto denso, e é nesse quesito que "Macbeth: ambição e guerra" falha, pois o filme se tornou demasiadamente alongado e, consequentemente, cansativo. É evidente que leve ele não seria, afinal, o livro, que é o texto-base, não o é. Mas a película deveria ter encontrado meios para reduzir o peso de uma obra tão grandiosa e profunda. Afinal, o original é Shakespeare, que, como é sabido, é um dos maiores nomes da história da literatura. A tragédia em questão é uma das mais conhecidas: conta a história de um general (Macbeth) que ouve de 3 bruxas que ganhará títulos de nobreza até se tornar rei, sendo então convencido por sua esposa que, para reduzir o caminho a ser trilhado, seria necessário excluir qualquer censura moral, matando quem fosse preciso para tornar-se rei. O que ecoa a partir de então é o conflito psicológico, brilhantemente representado pelo Bardo (apelido de Shakespeare) em críticas ainda hoje válidas.
Nesse ínterim, as legendas brasileiras inteligentemente se aproximam do texto original, conectando mais o espectador àquela diegese. Por sua vez, grosso modo, o texto original foi basicamente mantido, o que é muito mais impactante. Aliás, foram incluídos os célebres e magníficos excertos de Macbeth, como a reiterada fala "o que está feito, está feito" e o monólogo "som e fúria".
Para tornar sua obra mais atraente, o diretor Justin Kurzel, pouco experiente, aposta no estilo Tarantino, ou seja, abusa de cenas sanguinárias. Ao adaptar uma obra prévia, o idealizador tem uma margem de liberdade artística que concede a ele o poder de trazer o seu olhar particular, desde que minimamente fiel ao original. Dificilmente Shakespeare via em Macbeth toda a carnificina que Kurzel expõe, mas isso não chega a afastar a adaptação do original. Aliás, a direção é muito boa e com personalidade, com acertos técnicos em especial visuais - por exemplo, ao filmar na Escócia, onde se passa a peça.
O grande destaque é o visual: a fotografia é ótima, quase uma personagem à parte. Filmar na Escócia foi, de fato, um grande acerto. Há 3 momentos especiais em que se dá o ápice estético do filme: uma fotografia cinzenta na cena inicial de batalha, dando a entender a tristeza que a chacina exposta representa; o dourado preponderante após Macbeth tornar-se rei (fato sabido desde o início, pois previsto pelas bruxas); e tons alaranjados e avermelhdos na cena final, tons compatíveis com o que se quer indicar. Porém, há um exagero na névoa que incomoda porque quase obsta a nitidez dos planos. Além disso, é desagradável o slow motion na cena inicial (a de guerra), pois usado sem critério e de forma desnecessária - equívoco do diretor. Não que a névoa prejudique em demasia a fotografia, e não que o slow motion destrua a direção. Apenas mostram que um ótimo trabalho não é um trabalho impecável.
"Macbeth: ambição e guerra" tem muitos predicados técnicos. A edição de som é detalhista a ponto de incluir até mesmo o sopro do vento da fria Escócia, e a trilha sonora é acertadamente discreta, reduzida a instrumentos musicais (músicas não cantadas), para não destoar do ambiente. O que deve "saltar aos olhos" é a estética, não o som. A este bastou ser compatível. Assim como a atuação de Michael Fassbender, que surpreendentemente conseguiu compreender os vários conflitos internos de Macbeth e expor as nuances da sua personalidade volátil. A sua convicção cresce no decorrer da narrativa, e Fassbender, verdade seja dita, se mostra ótimo como um Macbeth representativo da miscelânea de sentimentos causada por seus atos. Vacilante, corajoso, ambicioso, obstinado, confuso, raivoso, louco... Macbeth reúne tudo isso em um só. O ator alemão não soou como melhor indicado para o papel, até pela sua aparência um pouco grosseira, mas mesmo essa característica acabou sendo verossímil. Talvez ele fique aquém apenas no monólogo niilista "som e fúria", o que não é tão ruim porque o texto em si já é forte o suficiente (ou seja, poderia ser potencializado por uma interpretação menos contida nessa fala). Por outro lado, a francesa maravilhosa e oscarizada Marion Cotillard decepciona profundamente ao atuar praticamente de forma unidimensional uma personagem riquíssima como é Lady Macbeth. O olhar de Cotillard continua expressivo, designando o talento ímpar da atriz. O problema é que Lady Macbeth é muito mais que um olhar, mais que uma voz, mais que um gesto. Ela tem tanta personalidade que é grande o risco de reivindicar para si toda a obra e assumir o seu protagonismo. Cotillard confundiu frieza com indiferença, distanciando-se do ideal que ela poderia atingir. O elenco conta ainda com David Thewlis, Jack Reynor e Sean Harris, os três em ótima forma e compreendendo que seus papéis são reduzidos para que apenas o protagonista brilhe. E ele brilha.
A equipe sabia que o texto garantiria um roteiro acima da média, desde que bem trabalhado (como foi, embora pudesse ser reduzido). Isso significa que os aspectos técnicos poderiam catapultar o filme ao status de obra-prima, o que não ocorre porque eles não chegam a ser memoráveis. Fassbender é ótimo, a fotografia é ótima. Para ser obra-prima, porém, precisariam ser incomparáveis, estonteantes, magníficos. O projeto é ambicioso, mas a ambição fica só na teoria (e na tela), restando "apenas" um filme ótimo. Clássico mesmo só o literário.
Nesse ínterim, as legendas brasileiras inteligentemente se aproximam do texto original, conectando mais o espectador àquela diegese. Por sua vez, grosso modo, o texto original foi basicamente mantido, o que é muito mais impactante. Aliás, foram incluídos os célebres e magníficos excertos de Macbeth, como a reiterada fala "o que está feito, está feito" e o monólogo "som e fúria".
Para tornar sua obra mais atraente, o diretor Justin Kurzel, pouco experiente, aposta no estilo Tarantino, ou seja, abusa de cenas sanguinárias. Ao adaptar uma obra prévia, o idealizador tem uma margem de liberdade artística que concede a ele o poder de trazer o seu olhar particular, desde que minimamente fiel ao original. Dificilmente Shakespeare via em Macbeth toda a carnificina que Kurzel expõe, mas isso não chega a afastar a adaptação do original. Aliás, a direção é muito boa e com personalidade, com acertos técnicos em especial visuais - por exemplo, ao filmar na Escócia, onde se passa a peça.
O grande destaque é o visual: a fotografia é ótima, quase uma personagem à parte. Filmar na Escócia foi, de fato, um grande acerto. Há 3 momentos especiais em que se dá o ápice estético do filme: uma fotografia cinzenta na cena inicial de batalha, dando a entender a tristeza que a chacina exposta representa; o dourado preponderante após Macbeth tornar-se rei (fato sabido desde o início, pois previsto pelas bruxas); e tons alaranjados e avermelhdos na cena final, tons compatíveis com o que se quer indicar. Porém, há um exagero na névoa que incomoda porque quase obsta a nitidez dos planos. Além disso, é desagradável o slow motion na cena inicial (a de guerra), pois usado sem critério e de forma desnecessária - equívoco do diretor. Não que a névoa prejudique em demasia a fotografia, e não que o slow motion destrua a direção. Apenas mostram que um ótimo trabalho não é um trabalho impecável.
"Macbeth: ambição e guerra" tem muitos predicados técnicos. A edição de som é detalhista a ponto de incluir até mesmo o sopro do vento da fria Escócia, e a trilha sonora é acertadamente discreta, reduzida a instrumentos musicais (músicas não cantadas), para não destoar do ambiente. O que deve "saltar aos olhos" é a estética, não o som. A este bastou ser compatível. Assim como a atuação de Michael Fassbender, que surpreendentemente conseguiu compreender os vários conflitos internos de Macbeth e expor as nuances da sua personalidade volátil. A sua convicção cresce no decorrer da narrativa, e Fassbender, verdade seja dita, se mostra ótimo como um Macbeth representativo da miscelânea de sentimentos causada por seus atos. Vacilante, corajoso, ambicioso, obstinado, confuso, raivoso, louco... Macbeth reúne tudo isso em um só. O ator alemão não soou como melhor indicado para o papel, até pela sua aparência um pouco grosseira, mas mesmo essa característica acabou sendo verossímil. Talvez ele fique aquém apenas no monólogo niilista "som e fúria", o que não é tão ruim porque o texto em si já é forte o suficiente (ou seja, poderia ser potencializado por uma interpretação menos contida nessa fala). Por outro lado, a francesa maravilhosa e oscarizada Marion Cotillard decepciona profundamente ao atuar praticamente de forma unidimensional uma personagem riquíssima como é Lady Macbeth. O olhar de Cotillard continua expressivo, designando o talento ímpar da atriz. O problema é que Lady Macbeth é muito mais que um olhar, mais que uma voz, mais que um gesto. Ela tem tanta personalidade que é grande o risco de reivindicar para si toda a obra e assumir o seu protagonismo. Cotillard confundiu frieza com indiferença, distanciando-se do ideal que ela poderia atingir. O elenco conta ainda com David Thewlis, Jack Reynor e Sean Harris, os três em ótima forma e compreendendo que seus papéis são reduzidos para que apenas o protagonista brilhe. E ele brilha.
A equipe sabia que o texto garantiria um roteiro acima da média, desde que bem trabalhado (como foi, embora pudesse ser reduzido). Isso significa que os aspectos técnicos poderiam catapultar o filme ao status de obra-prima, o que não ocorre porque eles não chegam a ser memoráveis. Fassbender é ótimo, a fotografia é ótima. Para ser obra-prima, porém, precisariam ser incomparáveis, estonteantes, magníficos. O projeto é ambicioso, mas a ambição fica só na teoria (e na tela), restando "apenas" um filme ótimo. Clássico mesmo só o literário.