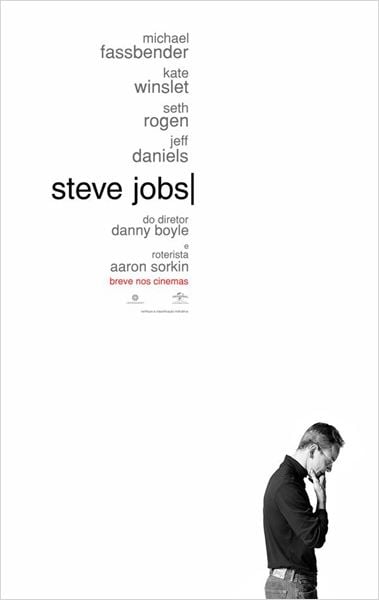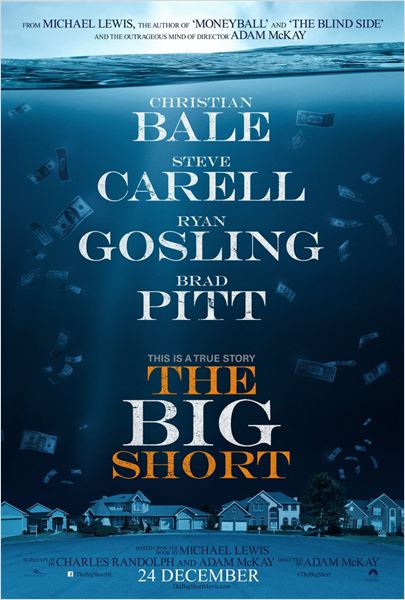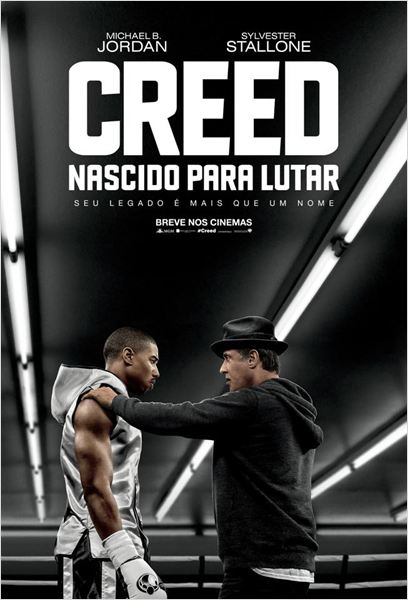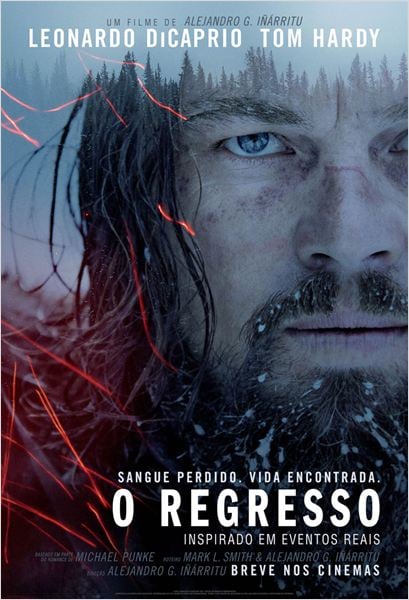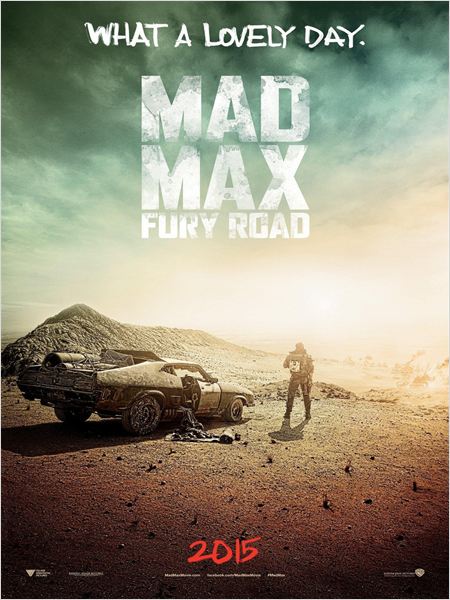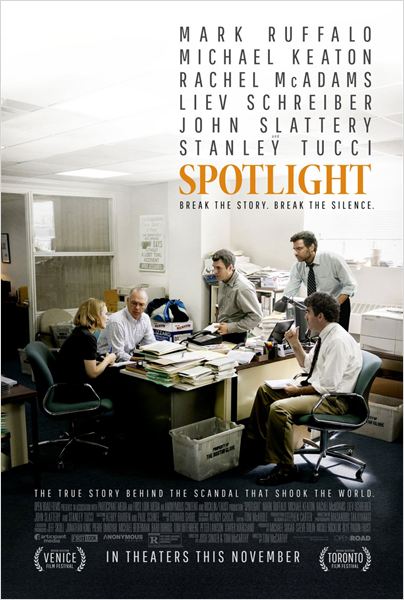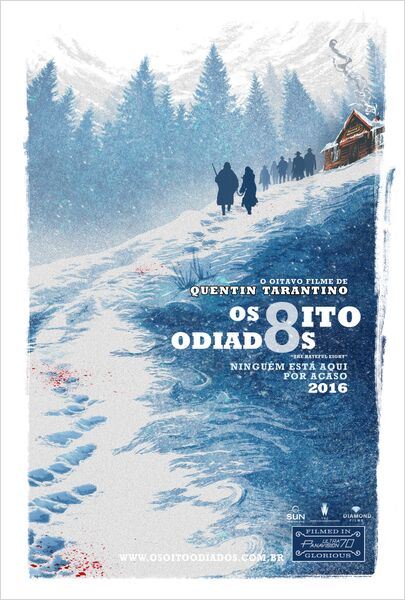Quentin Tarantino é um diretor bastante particular, com uma obra consistente em, até agora, 8 filmes (ele promete 10). Seu oitavo é "Os oito odiados", no qual estão presentes todas as características típicas de Tarantino, como autor e diretor. Não que ele tenha errado, mas este não é seu melhor filme, podendo ser considerado muito aquém em relação ao último, "Django livre" (também do gênero western), por exemplo. O filme é excelente, mas acaba sendo vazio.
"Os oito odiados" se inicia com um rápido prólogo consistente em imagens e música, para depois começar efetivamente o primeiro capítulo - Tarantino fez novamente uma divisão em capítulos, o que já lhe concede alguma peculiaridade, embora não seja novidade em seus trabalhos. A música é uma introdução à brilhante trilha sonora; as imagens, planos gerais (que são raros) da nevasca que as personagens enfrentam. É no capítulo 1 que a narrativa tem seu start, com o Major Marquis Warren pedindo carona para o carrasco John "The Hangman" Ruth, que, relutante, acaba por aceitar. Seu receio reside em outra pessoa presente, Daisy Domergue, que foi apreendida (como se fosse um objeto) por ele para ser trocada por uma quantia em dinheiro - e, depois, enforcada. Warren também tem seu tesouro, logo, cada um poderia cuidar dos próprios interesses. Posteriormente, surge Chris Mannix, que se anuncia como futuro xerife (prestes a ser empossado) da cidade onde Ruth entregará Domergue. A nevasca aumenta tanto que os quatro buscam abrigo no Armazém da Minnie, encontrando outros quatro indivíduos: Joe Gage, Oswaldo Mobray, Bob e General Sanford "Don't give a damn" Smithers. Os três momentos preambulares (o prólogo, a reunião dos quatro na carroça e a chegada ao Armazém) merecem análise detida.
O prólogo (seria um "capítulo zero") tem como objetivo situar o espectador na insensível nevasca, esteticamente bela, mas cruel e muito presente na história. Aparece, além da neve, uma estátua de Jesus crucificado, figura que pode ser interpretada de incontáveis maneiras.
No capítulo 1, Warren é obrigado a pedir carona para Ruth, caso contrário, ficaria preso na neve. A interação entre as personagens é bastante significativa: Ruth é radicalmente desconfiado e, para ceder ao pedido, faz uma série de demandas - o Major não poderia se aproximar armado, devendo livrar-se delas para, lentamente, chegar perto da carroça e poder dialogar. Eles já se conheciam, mas fundamental foi o interesse próprio de Warren, o que, em tese, afastaria o risco de querer entregar Domergue e ficar com o dinheiro. Daisy já estava apreendida, mas não fora entregue, logo, havia o risco de seu apreensor, Ruth, não ficar com o dinheiro, o que justifica a sua enorme precaução. Há muito diálogo antes de os quatro chegarem ao Armazém. Ruth e Warren têm em comum a área de atuação e o profissionalismo, vez que ambos entendem que o trabalho exige seriedade e racionalidade. Os dois são experientes, mas com perfis distintos: enquanto "The Hangman" é grosseiro, preconceituoso, controlador e violento, o Major é um pouco mais sereno. Em vários momentos, Ruth agride severamente Daisy - alguns chegaram a, precipitadamente, acusar Tarantino de misoginia - em razão da sua insolência (afinal, ela não estaria no mesmo status que ele). A própria maquiagem com olho roxo em Domergue aponta uma violência pretérita (que vai se acumulando e continuando com a narrativa), mas Daisy, na prática, é um saco de pancadas para o carrasco, em lances de violência crua e levemente sanguinária. Warren também a agride, mas por um motivo bastante pontual. Não que os golpes de John em Daisy fossem desmotivados, mas são mais banais. A violência em Tarantino é banal. Ainda assim, esse segundo momento preambular é mais calmo e centrado nos diálogos - a maioria deles, dotada de uma acidez fenomenal, com preconceitos e ofensas mútuas, encerrando-se apenas quando Warren ameaça Mannix (aquele sofre muito com os três racistas). Desde então já existem vários conflitos, mas as faíscas se acendem mesmo quando os oito estão reunidos (terceiro momento preambular em diante). Até chegarem ao Armazém da Minnie (um local que mistura saloon com hospedaria), há uma interação inicial lenta. Lá chegando, são apresentadas as novas personagens: Joe Gage, escrevendo sua autobiografia; Oswaldo Mobray, carrasco da cidade em que Daisy será enforcada; Bob, mexicano que toma conta do Armazém em razão da ausência de Minnie (foi visitar a sua mãe); e General Smithers, em mero estado de repouso, alheio a tudo e a todos. Após tudo isso, o filme começa a esquentar e o sangue aparece em maior quantidade.

Como se percebe, "Os oito odiados" conta com um introito bastante arrastado e lento. Entre golpes, ofensas pessoais, uma carta de Abraham Lincoln a Warren e apresentações, muito tempo se passa (o total do longa é de quase 3 horas de duração), exigindo atenção e paciência do espectador comum. Não é um filme de Michael Bay, mas também não é de Woody Allen. Esse início vagaroso é proposital, elevando a tensão e preparando o atrito entre as personagens. Ora, sendo seu idealizador quem é, o sangue em demasia é essencial, obviamente iria aparecer em algum momento. Demora, mas aparece, satisfazendo, provavelmente, os fãs decepcionados com as cenas mais morosas dos primeiros atos.
Desta vez, porém, duas novas características estão presentes. A primeira delas é um escancarado tom teatral dado à obra: diversamente da ação mais comum nos filmes do diretor, este oitavo tem muito mais diálogos, relatos em flashbacks (na verdade, um vaivém temporal, pois ele opta por brincar com o tempo) e acontecimentos espaçados. A linguagem cinematográfica é bastante distinta daquela do teatro, pois aquele é muito mais baseado na ação, ao contrário deste, focado no texto (oral ou gestual). Isso de certa forma surpreende e tende à monotonia, mas o texto é tão bem escrito que não é possível entediar-se em momento algum - além, é claro, da expectativa em relação à previsível chacina. O clima de tensão obsta o tédio. A outra característica nova é uma tentativa vã de mistério na trama, que, lamentavelmente, resulta em um equívoco enorme. No rol de habilidades de Tarantino aparentemente não consta o suspense, e o enigma proposto é óbvio e previsível. Só não é desnecessário, embora outra alternativa poderia ter sido pensada, e certamente seria preferível. "Os oito odiados" flerta com o suspense, mas é um western spaghetti com um quê de terror. É um western spaghetti porque abraça dois dos pilares desse subgênero cujo pai foi Sergio Leone, quais sejam, a carnificina e o foco em figuras que normalmente seriam antagonistas, normalmente bandidos, criminosos e pessoas de moral questionável. É a carnificina que faz a ponte com o terror. O segundo pilar já é premissa na obra do diretor, pois é notório que o ilustre Tarantino foge de maniqueísmos e personagens de moral ilibada. Ao contrário, ele prefere pessoas de moral repugnante ou movidas pelo desejo cego de vingança. Como aponta o nome do oitavo filme, nenhum é flor que se cheire.

No geral, as personagens são interessantes.
Samuel L. Jackson interpreta o Major Warren, em mais uma parceria com o diretor, que novamente dá certo. Provavelmente, eles falam o mesmo idioma, pois
Jackson novamente brilha numa atuação convincente e, desta vez, mais contida. Seu discurso provocativo, seu riso irônico e sua frieza são marcantes. John Ruth é vivido por
Kurt Russell, em
atuação boa, mas sem tanto brilho. Já a
Jennifer Jason Leigh coube Daisy Domergue, que tem uma
fascinante personalidade, pois ela é cínica, sádica, grosseira e intrépida à sua maneira. Ela é fascinante porque reúne características fortes e pouco comuns, o que se alia à
interpretação soberba da atriz: exagerada, mas não farsesca, com tom cômico, discurso afiado e um gestual inigualável. No elenco, é ela quem mais brilha, seguida por Jackson.
Walton Goggins atua como Chris Mannix, um patife de menor profundidade. Também menores foram
Michael Madsen (Joe Gage) e
Demian Bichir (Bob). Diversamente, o Oswaldo de
Tim Roth destoa da maioria por ser o mais polido e sereno, personalidade que Roth soube captar muito bem. O General Smithers é interpretado por
Bruce Dern, em
atuação boa, mas participação dispensável. Parece que a personagem foi inserida apenas para interagir com Samuel L. Jackson numa cena mais pesada e chocante (que por si só justifica a censura de 18 anos de idade), e Dern foi o nome certo para a dramaticidade necessária. Ainda assim, a personagem pouco acrescenta. Há ainda uma participação surpresa de
Channing Tatum.
Era previsível que oito (na verdade, são mais) personagens não conseguiriam ter o mesmo espaço, de sorte que algumas têm mais destaque que outros - Joe Gage, por exemplo, só não é minúsculo porque o roteiro, forçosamente, não permitiu. A rigor, uma pluralidade tão grande é um equívoco, pois é praticamente impossível todos terem a mesma importância. Além disso, o desnível de talento (comparando Jackson com Bichir, por exemplo), é patente. Ou seja, a presença de tantos nomes acaba sendo um erro primário, que só não é fatal pela idiossincrasia que Tarantino representa no cinema. Sua filmografia é uma colcha de retalhos, o que não é ruim, pois a originalidade reside justamente na compreensão e união de elementos dos mais diversos. O filme é tão peculiar que, ainda que pareça ter tentado, não consegue ser ruim.
Prosseguindo na crítica - afinal, um longa de 3 horas de duração carece de uma análise aprofundada e inevitavelmente prolixa -, a porta do Armazém é quase uma personagem à parte. Mais presente no terceiro momento preambular (que já começa a ser preambular), ela precisa ser fechada de uma maneira bastante própria (e aberta com um chute), caso contrário, continuará aberta, impedindo que o local fique fechado e proteja as personagens da nevasca. É uma metáfora que remete à ideia de que o estabelecimento não é um abrigo, não é um lar, um local onde as pessoas ficariam seguras. O ingresso não é fácil, e mais difícil ainda é manter-se dentro. A entrada no Armazém e a necessidade de um trabalho para fechar a porta simbolizam as noções de insegurança, perigo e cautela. Nada no cinema é por acaso, esse elemento não está lá à toa. A própria nevasca também tem um significado relevante, pois não apenas justifica a reunião dos odiados (esta é desdobramento lógico daquela), mas mostra que o mundo lá fora tem perigos indômitos. São reflexões como essas que levam a concluir que o nível artístico de uma obra como essa é infinitamente superior à maioria dos filmes, pois o marasmo, a frivolidade e a ausência de simbologias impera no cinema - razão pela qual "Os oito odiados", longe de ser maravilhoso, acaba se destacando.
Tecnicamente, o filme é impecável. O
design de produção é verossímil e precioso, mas é o som a maior estrela, por duas razões. A primeira delas é o fato de contar com uma
encantadora trilha sonora original do mestre inigualável Ennio Morricone, que tem a habilidade ímpar de potencializar todos os significados de tudo que cada plano indica. Além disso,
a mixagem de som é fenomenal, pois atenta a todos os detalhes possíveis, desde a nevasca até o caminhar dos odiados dentro do Armazém. Seguindo no olhar técnico, o filme foi filmado em Ultra Panavision (câmera) de bitola (largura da fita da gravação das filmagens) de 70 mm, enquanto o comum é de 35 mm (ou câmeras digitais). Infelizmente, no Brasil, não temos nenhuma sala que exiba esse formato original, então, a versão que assistimos é a que foi feita a adaptação para o formato digital, inferior ao original tão enfatizado pela produção.
Diante de tantas virtudes, o que "Os oito odiados" tem de ruim? De fato, o texto do roteiro tem diálogos interessantes, associações simbolicamente significativas e uma dinâmica diferenciada. Alia-se a isso os recursos da direção, como o uso de flashbacks nos momentos certos e uma narração para simplificar alguns relatos. Nesse ínterim, é inegável que Tarantino domina a mise-en-scène ao construir planos detalhistas: o cenário principal é apenas um, o Armazém (o que também remete ao teatro), mas um olhar atento permite observar que são tantos os elementos presentes que a atenção prestada para a sua montagem foi um trabalho árduo; o trabalho de câmera é excelente, com ápice em a uma filmagem giratória durante uma conversa; a linguagem corporal das personagens é eloquente; a iluminação é perfeita; a ação é propositalmente chocante; enfim, há um suntuoso visual minuciosamente orquestrado para ser marcante. O problema é que tudo isso representa uma visão micro dentro daquele universo. O contexto é um momento de pós-guerra, em que preconceitos, com destaque ao racismo (muito presente, em incontáveis oportunidades em que a palavra "nigger" é dita), são comuns. Há um recorte bastante preciso, uma visão bem exposta. Por outro lado, em visão macro, não há muito além do entretenimento e conclusões niilistas. Isto é, à riqueza dos detalhes opõe-se a pobreza da síntese da obra, que, ao mesmo tempo que encanta ao ser assistida, torna-se vazia depois ao não permitir grandes reflexões. Mesmo ao tratar de um tema espinhoso como o racismo, a abordagem é um mero retrato temporal-espacial, não chega a ser uma crítica. O discurso ácido não chega a ser construtivo. Melhor dizendo, a abordagem das temáticas não é construtiva, mas meramente expositiva. Esta ressalva é fundamental, sem, porém, que apagar a conclusão já elaborada de que, ante o marasmo, a frivolidade e a ausência de simbologias que impera no cinema, "Os oito odiados", longe de ser maravilhoso, acaba se destacando por seu alto nível artístico.