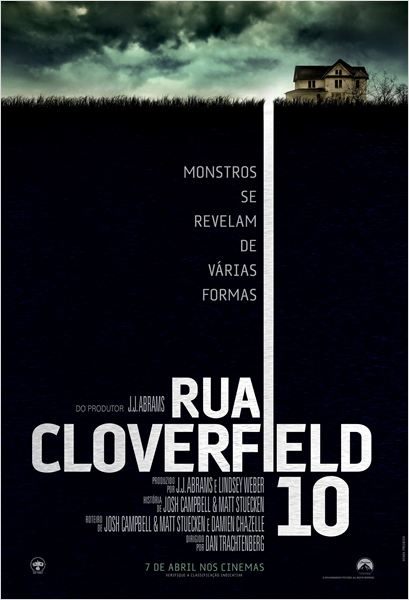Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Paul Rudd, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sebastian Stan, Don Cheadle, Tom Holland, Daniel Brühl, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Martin Freeman, Frank Grillo, Emily VanCamp, William Hurt e Marisa Tomei. Como equilibrar tantos nomes em um filme? CAPITÃO AMÉRICA: GUERRA CIVIL mostra que é possível.
O prólogo do filme já surpreende ao se passar em 1991, trazendo uma explicação fundamental para o argumento - aliás, o filme é repleto de surpresas (no geral, boas). O roteiro segue dois eixos principais: o "Tratado de Sokovia" - assinado em Viena (?) - e o arco individual do Soldado Invernal. O Capitão e o Homem de Ferro duelam porque estão em lados opostos em ambos. Existem também diversos motores narrativos, iniciando efetivamente com um incidente envolvendo o Capitão, o vilão Ossos Cruzados (que é melhor que o vilão principal) e, principalmente, a Feiticeira Escarlate, que acidentalmente mata civis inocentes. O grande problema do plot é a inserção de ideias ruins e eventualmente artificiais, tais como um envolvimento da ONU nada crível e a conexão forçada entre o Soldado Invernal e o vilão principal.
Não obstante, há claro esmero na construção das personagens, que é bastante rica. Inicialmente, os "veteranos" continuam no mesmo bom ritmo: Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr., desta vez mais sério e dramático) e Viúva Negra (Scarlett Johansson). Por sua vez, os conhecidos permanecem em papéis modestos (o Gavião Arqueiro de Jeremy Renner, o Homem-Formiga de Paul Rudd e o Máquina de Combate de Don Cheadle) ou avançam em algum sentido. No primeiro caso, o Gavião Arqueiro tem participação pequena, assim como o Homem-Formiga, mas este tem função de alívio cômico (e tem destaque individual numa ótima cena) e certamente agrega no contexto. Como personagem, o Homem-Formiga comprovou que é ótimo com função de coadjuvante, não tendo fôlego para o protagonismo. No segundo caso, Elizabeth Olsen consegue dar novas camadas para a Feiticeira Escarlate: Wanda aparece no início como espiã (o que é novo), mostrando posteriormente que ainda é psicologicamente instável, mas não tanto quanto antes. Anthony Mackie é uma grata surpresa na atuação, pois o Falcão se torna mais útil na batalha - boa parte graças a um drone (um diálogo entre ele e a Viúva Negra merece ser ignorado, pois a tentativa de humor é bem falha) - e, em determinado momento, é fundamental na sequência narrativa. Paul Bettany é um grande ator e seu talento sobra para explorar um Visão mais humano e apaixonado. Outro que é verticalizado é o papel de Sebastian Stan, podendo-se distinguir entre duas personalidades distintas, Bucky e Soldado Invernal - a atuação é razoável. Ainda, os novatos variam bastante: William Hurt retorna agora como político, mas em papel encolhido; o Pantera Negra é, no mínimo, fascinante; o Everett Ross de Martin Freeman é um verdadeiro desperdício (do talento do ator), pois a participação é minúscula e praticamente irrelevante; Emily VanCamp e Frank Grillo estão lá apenas para justificar tratar-se de um filme do Capitão América (argumentando não ser um "Vingadores 2.5") e o Homem-Aranha rende momentos espetaculares. O Cabeça de Teia não aparece tanto tempo na tela, mas o suficiente para apresentar Tom Holland no papel (e Marisa Tomei rapidamente como uma jovial-mas-não-menos-preocupada Tia May). O garoto está visivelmente confortável e vive um Peter quase tão descolado quanto o de Andrew Garfield - o herói é muito divertido. Todavia, o que o Spider tem de melhor é o viés adolescente que se lhe foi atribuído, rejuvenescendo o herói ao representar mais um reboot promissor. Por quê o Pantera Negra é fascinante? Por duas razões (que permitem uma análise conivente em relação à sua incoerência): a atuação de Chadwick Boseman é ótima, em especial pelo trabalho vocal imprimindo um sotaque peculiar, além disso, seu envolvimento na guerra é verossímil por uma sagacidade do roteiro (que certamente exigiu um raciocínio apurado para evitar que soasse como uma inserção forçada).
Interessante observar que o filme é bom apesar do vilão fajuto - o que não é culpa do seu intérprete, Daniel Brühl. O ator acerta na atuação contida e mais amedrontadora (destaque para o trabalho de voz, simbolicamente linear e serena), porém, ele não pode salvar o antagonista principal dos erros havidos quando da sua construção. É um vilão sem motivação (ao menos uma motivação que soe crível naquele universo diegético), além do que seus atos soam absurdos (ainda considerando o contexto fantástico). Apesar disso, o roteiro é bem elaborado quanto às personagens, não apenas por dar razoável equilíbrio, mas também porque acerta na abordagem da interação entre os heróis: no começo já se percebe um avanço no trabalho em equipe, o que prossegue mais adiante, em especial no "Team Cap", outrossim, existe romance e amizade entre eles (a amizade entre Steve e Natasha, independentemente de Capitão e Viúva, aparece novamente e tem ótimos momentos). Aliás, como não gostar da Viúva Negra?
Com tudo que foi dito é possível notar que GUERRA CIVIL é um filme de personagens e estrelas, antes mesmo de ser um filme de heróis. É notório que a porrada é a prioridade visual, ainda que em detrimento do texto, entretanto, é inegável que é isso que o público-alvo busca. Existe uma hipocrisia ao fingir que há profundidade no roteiro, mas a pequena dosagem deste quesito permite condescendência: não é o longa de heróis mais intelectual que já existiu, mas a tentativa de suscitar algumas questões além da porrada dá algum crédito, inclusive por não perder tempo com grandes explicações. Dois times, duas ideologias, batalha. A "filosofia" de minimizar o "falatório" dá certo naquele contexto, o que é também o mote da Marvel. E desta vez sem tantas piadas.
Compreendendo isso é que o saldo da direção dos irmãos Russo é positivo. O auge reside nas (incontáveis) cenas de luta, com coreografias de luta bem convincentes (os ensaios devem ter sido inúmeros), com bastante violência em razão do impacto (dos golpes) explícito. Cinema também é convencimento, na porrada, há êxito. Por outro lado, além de não terem sido aproveitadas as diversas locações (mais um desperdício!), os diretores não dominam a linguagem do 3D, que fica ruim com a constante pouca profundidade de campo e uso de rack focus. Até mesmo a câmera lenta desnecessária numa cena de luta ao final não permite afirmar que a direção é de má qualidade. O saldo, cabe reiterar, é positivo.
Também é ruim a mixagem de som caótica. Houve esmero na edição de som, mas o uso incessante de efeitos sonoros dificulta a compreensão daquilo tudo, tornando o longa, do ponto de vista sonoro, massante e cansativo. A bem da verdade, o filme é cansativo, mas não monótono - afinal, com tantas batalhas a monotonia passa longe.
Cansa (em especial aos ouvidos), mas é um entretenimento válido para a sua proposta. Não é uma pérola da sétima arte (como a maioria que entra em cartaz, certo?), mas é um filme muito bom e honesto em relação ao que se propõe a ser. Um objetivo que não é artisticamente elogiável, mas também não é desprezível como outros, bem piores. E de trabalho competente. Ruim não poderia ser.